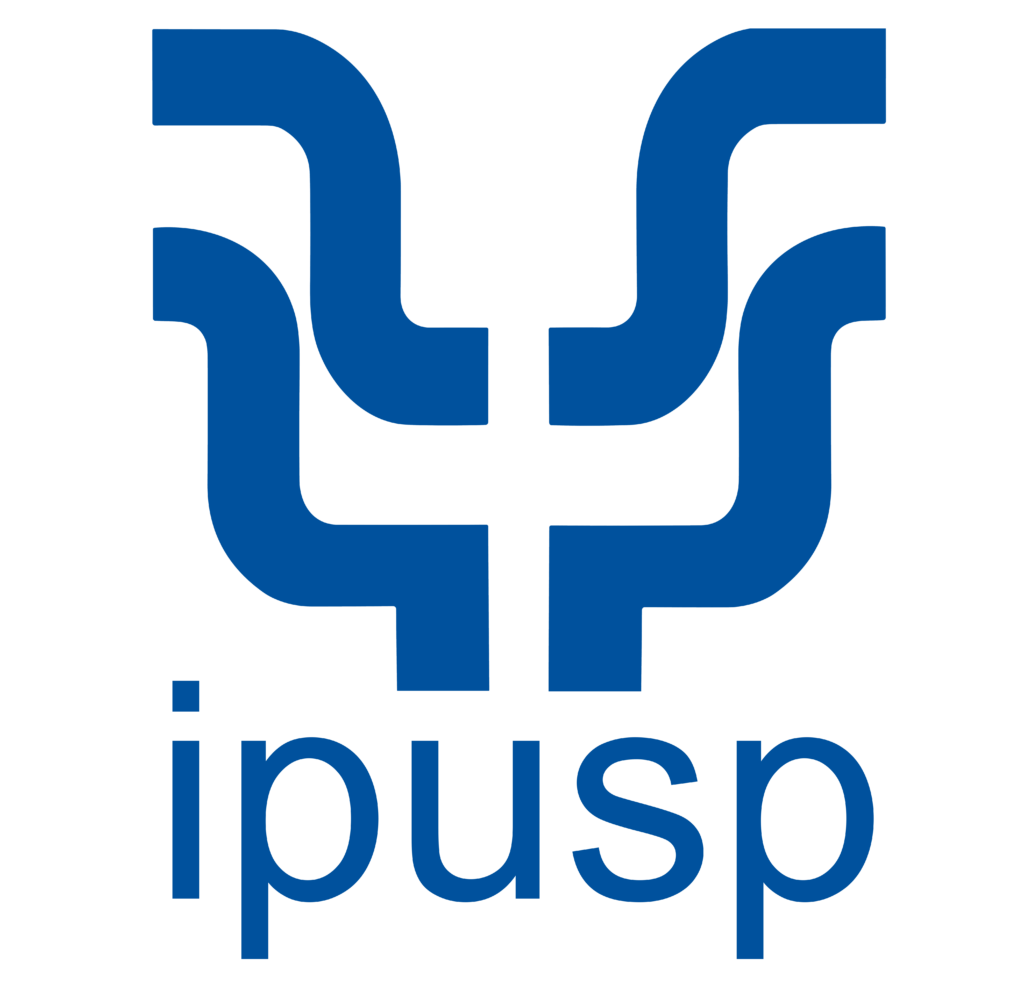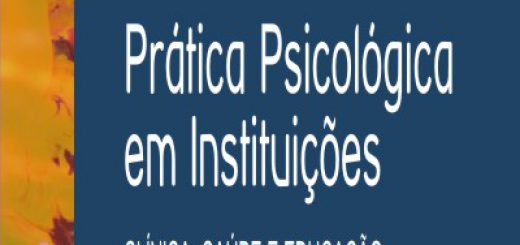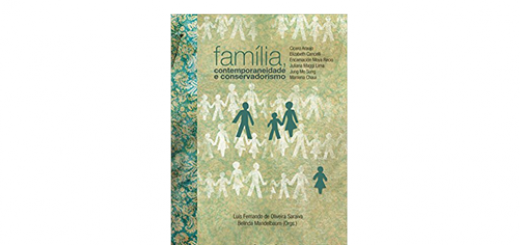Idade: 71 anos
Especialidade: Psicologia e psicanálise
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Formação: Graduação (1974), mestrado (1982) e doutorado (1990) em psicologia na USP
Produção: 88 artigos científicos, 3 livros, 17 obras organizadas e 66 capítulos de livros. Orientou e supervisionou mais de 80 projetos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Fundou o Lugar de Vida, referência em atendimentos para crianças autistas e psicóticas.
Por: Christina Queiroz
Em uma trajetória construída entre o universo da pesquisa acadêmica e atendimentos clínicos, a psicóloga e psicanalista Maria Cristina Machado Kupfer, do Instituto de Psicologia e da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (IP-FE-USP), desenvolveu na década de 1990 o conceito de educação terapêutica, que tem propiciado a inclusão de crianças psicóticas e autistas na sociedade por meio de atendimentos em grupo, conjugados com atividades escolares. Perseguida durante a ditadura militar (1964-1985) por sua atuação no movimento estudantil, Kupfer, que foi professora convidada na Université Paris Nanterre, na França, levou sua preocupação com o social e o coletivo para o trabalho na psicologia.
Há pelo menos três décadas, a base de suas pesquisas e atendimentos clínicos envolve o trabalho em grupo com crianças de distintas faixas etárias e questões psíquicas. Ao enxergar o autismo como um modo de ser, e não um transtorno, a pesquisadora trata das divergências existentes, no Brasil, entre psicanálise e disciplinas como a neurociência e a psiquiatria. Em alguns casos, defende ela, a busca por estratégias que propiciem aos autistas o estabelecimento de laços sociais pode ser mais eficiente do que o uso de medicamentos.
Paulistana, mãe de dois filhos e avó de quatro netas, ao coordenar o desenvolvimento de indicadores para padronizar atendimentos psicanalíticos, Kupfer estabeleceu pontes entre o conhecimento acadêmico e a formulação de políticas públicas voltadas à saúde mental infantil. Nesta entrevista, concedida para Pesquisa FAPESP em duas sessões, uma presencial e outra por videoconferência, ela fala sobre a importância do desenvolvimento de políticas e ações que permitam ampliar a inserção de crianças com deficiência em escolas regulares.
De onde vem seu interesse por crianças?
Sou filha de professores ligados à cultura francesa. Minha mãe era professora de francês e meu pai pianista e professor de história da arte. Eu e duas das minhas quatro irmãs estudamos em escola francesa. Isso foi marcante, porque me trouxe um modo específico de estruturar o pensamento e a escrita. O fato de sermos cinco mulheres e de termos vivido em grupo durante a infância também foi importante. A infância marca as escolhas e a vida futura. Tive uma formação que privilegia o coletivo, o social, a igualdade. O gosto que tenho por desenvolver trabalhos em grupo, na psicanálise, vem desse legado familiar. Outra experiência marcante foi a convivência, durante a infância, com um menino autista, filho de uma amiga de minha mãe. Eu não entendia o que acontecia com aquele menino, que tinha a mesma idade que eu, mas não brincava com a gente. Tenho clareza de que foi ele quem despertou em mim a curiosidade e, de alguma forma, mais tarde influenciou meus interesses de pesquisa. Há 60 anos, não se viam autistas na rua, diferentemente dos tempos atuais. Eles costumavam ficar dentro de casa.
A senhora tem filhos?
Sim. Conheci meu marido, o jornalista José Paulo Kupfer, em um passeio pelo rio São Francisco, no Nordeste. Nos casamos em 1972, temos dois filhos que nos deram quatro netas. Em 1973, quando eu estava no penúltimo ano da graduação no Instituto de Psicologia da USP, fomos morar do lado de uma colega de faculdade. Eu não sabia, mas ela estava sendo procurada por agentes do governo militar, por causa de sua participação na luta armada. Acabamos presos.
Na ditadura, fui presa e torturada. Meu pai me mandou uma rosa, porque não queria que eu esquecesse da civilidade humana.
Vocês tinham alguma militância política?
Meu marido tinha tido alguma atividade política no Rio de Janeiro, mas não na luta armada, e eu frequentava o movimento estudantil. Um dia, agentes da Operação Bandeirantes [Oban] levaram nós três presos. Ficamos encarcerados durante semanas na sede da Oban, em São Paulo. Passei por choques e outras coisas. Mesmo depois de já ter sido submetida ao terror, demorei a ser liberada porque achavam que eu poderia avisar outras pessoas que estavam sendo procuradas. Um dos torturadores que comandavam as sessões era um homem supostamente cristão, porque assim se declarava. Cristão e torturador, ao mesmo tempo, como se isso fosse possível. Quando meus pais descobriram onde eu estava presa, minha mãe enviou coisas que achava importantes, como itens de higiene pessoal e roupas. Meu pai me mandou uma rosa. Ao tomar conhecimento desse fato, esse torturador se sentiu profundamente tocado. Depois disso, durante todo o tempo em que permaneci presa, ele passou a recitar poemas diariamente para mim. Eu tinha 21 anos e sentia uma raiva imensa de ter de ouvir o homem que, dias antes, havia comandado as sessões em que fui torturada com choques elétricos. A entrada de uma flor naquele cenário de terror, perseguições e pessoas morrendo foi muito marcante. A gente não come nem veste uma rosa, mas meu pai não queria que eu esquecesse da civilidade humana. Com esse gesto, ele indicou um caminho para me fortalecer diante do horror que foram os anos da ditadura. Essa história me marcou muito. Esta é a primeira vez que falo publicamente sobre isso.
Quanto tempo ficou presa?
Duas semanas. Meu marido ficou um pouco mais. Os agentes da repressão estavam interessados em “investigar” as guerrilhas e os movimentos armados. Minha vizinha ficou muito mais tempo e apanhou muito. Quando saiu, foi direto para o exílio. Nunca mais voltou para o Brasil.
Quando a senhora descobriu sua vocação para a psicanálise e a educação?
Concluí a graduação em psicologia no Instituto de Psicologia da USP em 1974. Logo em seguida houve um concurso para professor na área de psicologia escolar no IP. Não tinha muita clareza se gostaria de ser pesquisadora porque havia tido uma experiência negativa com a coordenação de um grupo durante a faculdade. Poderia ter desistido da carreira acadêmica depois de me formar, mas nós sabemos que a verdadeira vocação não é aquela em que necessariamente você se sai melhor, mas aquele terreno que apresenta obstáculos, enigmas e desafios. Fui aprovada no concurso em 1975, mas levei anos para me enxergar como pesquisadora e ser reconhecida como tal. Quando realizei um seminário para a Associação Analyse Freudienne, de Paris, da qual sou membro, o diretor disse: “Temos diante de nós uma verdadeira pesquisadora”. Sempre quis trabalhar com educação e acabei indo para a psicologia porque pensava que ela me daria mais instrumentos para lidar com crianças. Em 1998 fundei, com o psicanalista Leandro de Lajonquière, o Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas e Educacionais sobre a Infância [Lepsi], na USP. Desde então, esse campo de estudo não parou de crescer.
A senhora tem trabalhos de referência com crianças autistas. Como definir o autismo?
A Associação Americana de Psiquiatria define os autistas como pessoas com problemas de comunicação, inclusão social e padrões restritos e repetitivos de comportamento. O autismo tem origem neurológica. Geralmente psiquiatras e neurologistas entendem os autistas de forma determinista. Ou seja, para grande parte deles, a partir do momento em que a criança apresenta esse transtorno em seu neurodesenvolvimento, seu destino como autista está selado. Eles enxergam o autismo como um transtorno, uma doença, que deve ser tratada com remédios e reeducação. Os psicanalistas concordam que o autismo é um transtorno envolvendo o desenvolvimento neurológico. Mas, a partir dessa definição médica, acrescentamos uma dimensão a mais: a psíquica. Afirmamos que todo ser humano tem um corpo que se desenvolve e um psiquismo que se constrói nesse corpo.
Psiquiatras e neurologistas refutam essa abordagem?
Alguns argumentam que pesquisas relacionadas à mente não são claras e oferecem poucas evidências que permitam afirmar que construímos um aparelho mental, ou a mente. A psicanálise se dedica há mais de 100 anos a estudar a construção do aparelho psíquico e tentamos entender como ele se desenvolve em um autista. É um desenvolvimento diferente do modo como estamos acostumados a ver em pessoas não autistas. Os psicanalistas entendem que o autismo é um modo de ser e não uma doença. A psicanálise compreende que a construção psíquica é feita a partir da relação com o outro, ou seja, ela não é determinada apenas por aspectos biológicos. Isso significa que o autismo não advém somente de problemas no desenvolvimento neurológico, mas também decorre dos desafios relacionados à construção psíquica.
Entendemos o autismo como um modo de ser e não uma doença. Ele tem origem neurológica, mas também decorre da construção psíquica.
Como o aparelho psíquico se desenvolve em uma pessoa autista?
A psicanálise trabalha com a ideia de que o psiquismo do ser humano se constrói por meio da relação com o outro. E os problemas no desenvolvimento neurológico em autistas atrapalham a relação da criança com o outro. Por isso, essa relação precisa se constituir de um modo diferente daquele que funciona com outras crianças. Os autistas recebem estímulos sem filtro, não conseguem se integrar a grupos e têm dificuldades de linguagem. Eles estão no mundo, querem estar, mas não podem e fogem dele o tempo todo. Com isso, as trocas são falhas e a criança autista não consegue entrar em contato ativo com outras pessoas, não responde nem oferece estímulos aos outros. Sua construção psíquica se baseia na repetição, regularidade, mesmice ou imutabilidade. Eles criam um mundo inflexível e tudo o que desarranja a ordem os incomoda muito. Por isso, sua construção psíquica é fruto da dificuldade de estar com os outros no mundo. E, se eu entendo o autismo como uma construção psíquica, não posso chamá-lo de doença.
Se não se trata de uma doença, é possível falar em cura?
A psicanálise trabalha com a ideia de que o autista elabora seu aparelho psíquico para se defender da grande dificuldade que tem de estar com os outros e busca fazer com que a pessoa crie laços sociais sem sofrer. Não se trata de uma busca pela cura, ou seja, nós não buscamos tirar uma criança do autismo. A estrutura do autismo vai prosseguir por toda a vida, mas pode ficar mais leve por meio de tratamentos terapêuticos que ajudem o indivíduo a melhorar sua defesa em relação à angústia de estar com os outros.
Quem foram os pioneiros na pesquisa sobre o autismo?
No século XIX, quando a psiquiatria se desenvolveu, ainda não se falava em autismo porque as pessoas nessa condição eram colocadas de forma genérica no rol de pessoas com deficiência. Em 1846, foram feitos os primeiros estudos para identificar diferenciações entre as deficiências. Foi só em 1943, com os estudos do austríaco Leo Kanner [1894-1981], que se começou a falar em autismo. Radicado nos Estados Unidos, Kanner foi um psiquiatra com forte influência psicanalítica e descreveu os primeiros 11 casos conhecidos de autismo. O psicanalista austríaco Bruno Bettelheim [1904-1990] também fez contribuições nesse sentido ao estabelecer conexões entre o autismo e as relações familiares. No entanto, Bettelheim ficou conhecido como aquele que acusou as mães de serem responsáveis pelo autismo dos filhos, por causa de uma interpretação um tanto equivocada de suas ideias. Ele disse, no final de sua obra, que é a não reação da criança que leva a mãe, ao final do primeiro ano, a se distanciar dela.
Por que essa atenção sobre as mães?
A mãe é responsável pelo estabelecimento das primeiras relações do bebê com o mundo externo. Um bebê de 6 meses já responde aos estímulos de sua mãe, ao sorrir para ela quando a vê, ou rir quando faz cócegas em sua barriga. Ou mesmo mais tarde, quando a criança está na rua e aponta para um cachorro para mostrá-lo à sua mãe. Chamo essas relações de prazer compartilhado. Para os psicanalistas, o prazer compartilhado é a base de toda a construção psíquica. E bebês com risco de evolução de autismo não reagem a esses estímulos.
Hoje há mais autistas na sociedade ou o diagnóstico é mais preciso?
No fim do século XX, a proporção era de quatro autistas para cada 4 mil pessoas. Mas atualmente, nos Estados Unidos, por exemplo, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças [CDC] estimam que há um autista para cada grupo de 60 pessoas. É uma diferença astronômica. Sabemos diagnosticar melhor, mas os diagnósticos também cresceram de forma desmesurada. Muitos médicos se apressam em propor o diagnóstico de autismo logo na primeira infância, para que a criança comece a tomar remédios o mais rápido possível. Na pandemia, por exemplo, o número de diagnósticos de autismo aumentou muito, quando na verdade as crianças estavam simplesmente mais quietas.
Quanto mais diverso o ambiente, melhor para o autista. Ao perceber a diferença com os outros, ele constrói a consciência sobre si mesmo.
A senhora desenvolveu diferentes estudos envolvendo psicanálise e educação. Poderia falar sobre eles?
Desde que comecei a lecionar na USP, queria trazer para o Brasil um modelo francês de atendimento em grupo, para crianças psicóticas e autistas, que é associado à inclusão escolar. Nos anos 1990, o movimento de inclusão escolar estava começando no Brasil. Apoiada nesse modelo francês, criamos em 1992 um grupo de trabalho no IP que oferecia atendimento a crianças de diferentes idades com problemas de aprendizagem, autistas e psicóticos. Nosso tratamento tinha base psicanalítica, mas também contava com a participação de pedagogos e fonoaudiólogos. O objetivo era fazer com que essas crianças estabelecessem laços com o outro sem as angústias e defesas que costumam ter. O atendimento era conjugado com a ida à escola, que também produz efeitos na reestruturação psíquica. Chamamos essa proposta de educação terapêutica, noção desenvolvida por mim.
Foi esse trabalho que deu origem ao Lugar de Vida, o espaço que se tornou uma referência no tratamento e acompanhamento escolar de crianças e jovens com diferentes tipos de problemas psíquicos?
Sim. Em 2017, os atendimentos deixaram de acontecer na USP e o trabalho passou a ser desenvolvido no Lugar de Vida, que funciona como uma clínica particular em São Paulo e busca possibilitar a inclusão na vida escolar e cotidiana dessas crianças. Seguimos atendendo a grupos heterogêneos e nossos profissionais estabelecem diálogos com as escolas, cuidando para que elas recebam de forma adequada pessoas com questões psíquicas, que muitas vezes podem ser agressivas ou apresentar dificuldades severas de aprendizagem. A escola faz a educação regular, e no Lugar de Vida fazemos educação terapêutica. A escola regular colabora com a construção psíquica em várias dimensões, ajudando crianças a organizar sua visão de mundo. Por meio desse trabalho conjunto, muitas crianças começaram a adquirir conhecimento, se alfabetizaram. No Lugar de Vida, trabalhamos com linhas de intervenção precoce que permitem interferir no desenvolvimento de bebês autistas a partir dos 6 meses, fazendo frente à dificuldade de estar com os outros e de se relacionar. A ideia é que esse bebê seja apoiado desde o início para não criar defesas tão duras. Atendemos crianças de 4 anos que começam a buscar prazer compartilhado, a construir relações que são atravessadas pelo prazer. Claro, à maneira delas. Também contamos com o projeto Escolas Protagonistas, que envolve a participação de 10 escolas particulares e com quem temos um trabalho conjunto de educação terapêutica. Com apoio da FAPESP, editamos dois livros sobre práticas inclusivas nessas instituições.
Qual a importância da escola na vida de uma criança autista?
Antes se pensava que as outras crianças atrapalhavam as autistas, porque traziam estímulos com os quais os autistas não conseguiam lidar. Aos poucos, pesquisas evidenciaram que crianças autistas estão atentas às outras crianças. No início, de maneira oblíqua, mas sempre interessadas em observar o que as outras fazem. Com essa convivência, em um segundo momento, os autistas fazem um movimento de imitar gestos de outros alunos. Percebemos que essa imitação poderia se transformar em identificação, que as crianças autistas estavam construindo sua subjetividade na relação com os outros alunos. Nesse sentido, quanto mais diverso e heterogêneo o ambiente, melhor para o autista porque, ao perceber a diferença com os outros, ele consegue constituir a consciência sobre si mesmo. Hoje, sabemos que é muito mais fácil uma criança aprender com outra do que aprender com um adulto.
A senhora realizou estudos que permitiram ampliar a presença da psicanálise em políticas públicas voltadas à saúde mental. Como isso se deu?
Uma dessas pesquisas foi realizada entre 2000 e 2008 e envolveu a criação dos Indicadores de Risco para Desenvolvimento Infantil [Irdi]. Por sugestão do Ministério da Saúde, apresentamos um projeto, que foi aceito, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico [CNPq] e à FAPESP. Estruturamos um grupo de trabalho coordenado por mim que envolveu especialistas em 10 capitais. Nos baseamos em pressupostos teóricos psicanalíticos sobre a constituição psíquica de crianças com até 36 meses para elaborar 31 indicadores clínicos aptos à detecção de sinais iniciais de problemas psíquicos do desenvolvimento infantil, que podem ser observados nos primeiros 18 meses de vida. A ideia do Ministério da Saúde era incorporar esses indicadores na caderneta de saúde da criança, para servirem de apoio a pediatras. Um dos indicadores que utilizamos envolve a ideia do prazer compartilhado. Por meio dele, conseguimos identificar se o bebê está em processo de retraimento relacional. Alguns indicadores passaram a compor a caderneta da criança em 2017. Também com financiamento da FAPESP, entre 2017 e 2019, elaboramos um outro instrumento, chamado de Acompanhamento Psicanalítico de Crianças em Escolas, Grupos e Instituições [Apegi]. No Apegi, sistematizamos metodologias de diagnóstico e acompanhamentos da psicanálise com crianças a partir de 4 anos e propusemos leituras, por intermédio dos diferentes fenômenos observados pelo psicanalista, do processo de constituição subjetiva, que é articulado ao desenvolvimento da criança.
Por que é importante contar com instrumentos como esses?
O protocolo Irdi pode ser utilizado por médicos, psicólogos, fonoaudiólogos e outros profissionais das áreas da saúde e educação para acompanhar o desenvolvimento psíquico. No caso do Apegi, somente profissionais que conhecem bem a psicanálise podem utilizá-lo. Para ambos, é necessário um treinamento, disponível em cursos oferecidos por profissionais credenciados. Infelizmente, o poder público não assumiu ainda treinamentos gratuitos para eles. Essa é uma batalha a ser travada. Esses instrumentos permitem criar um meio caminho entre a metodologia da psicanálise, que se baseia em um caso único, depende de cada psicanalista e de cada paciente, e uma metodologia como a da medicina.
A psicanálise brasileira é hoje reconhecida. Temos mais psicanalistas na academia aqui do que a França.
Que avaliação a senhora faz sobre o desenvolvimento da psicanálise no Brasil, desde o seu ingresso na carreira?
Circulei muito por universidades francesas, por causa de diferentes projetos de cooperação, especialmente entre 2000 e 2015. Sempre observei uma postura até certo ponto colonialista por parte dos franceses. Isso significa que eles, em alguma medida, se consideravam a instituição-mestre da psicanálise. Mas isso mudou e hoje o trabalho dos psicanalistas brasileiros é reconhecido, especialmente por pesquisas desenvolvidas em universidades. No começo da minha carreira, também me lembro que se dizia que os psicanalistas não sabiam elaborar projetos para buscar financiamento. Tinham dificuldade de adequar sua linguagem à linguagem de pesquisa. Isso mudou. Atualmente, vemos psicanalistas operando em diferentes vertentes de investigação científica. Inclusive temos hoje mais psicanalistas trabalhando em universidades do que a França.
Para quais questões suas pesquisas ainda não encontraram respostas?
Estou iniciando estudos sobre a sexualidade dos Asperger, que são os autistas de alto rendimento. Para mim, é um grande enigma como eles conseguem se relacionar. Também sigo com trabalhos com os instrumentos, porque o Apegi é voltado para crianças a partir de 4 anos e o Irdi para 1,5 ano. Temos uma lacuna no meio. Com apoio da FAPESP e coordenação de Rinaldo Voltolini, meu colega na FE, estou desenvolvendo uma nova pesquisa sobre instrumentos que possibilitem analisar crianças de 18 meses a 4 anos. Ainda não temos protocolos estabelecidos para trabalhar com crianças de 18 a 24 meses, então esse é outro campo que permanece em aberto.
O que levou a senhora a escrever um romance sobre o autismo ambientado no século XIX?
Temos grandes dificuldades de estabelecer conversas entre a psicanálise e as correntes das ciências baseadas em evidências, como a medicina. Também há um movimento de pais que condena e combate a psicanálise. Então eu pensei em escrever sobre autismo, mas em uma outra época, distanciando-me das querelas contemporâneas e me apoiando na linguagem do romance. Arthur, personagem principal do meu livro, é um autista que começa a escrever. Para criar o personagem, me baseei no modelo dos autistas escritores. Meu objetivo foi apresentar um modo de ver o autista para essas famílias e para pessoas que têm uma visão mais fechada, comportamental e determinista dessa condição. Sempre gostei muito das línguas portuguesa e francesa, então foi um exercício prazeroso.
Como estão as políticas públicas de saúde mental para autistas?
No começo do milênio, o Ministério da Saúde fez tentativas de construir manuais apoiados em uma visão psicanalítica e progressista, que pensava no autismo como um modo de ser, mais do que como uma doença. Entre 2011 e 2016 foi elaborado um outro manual, pautado em uma visão mais fechada de que o autista precisa ser reeducado. Depois disso, o desenvolvimento de políticas públicas para o autismo foi interrompido, assim como os investimentos para que escolas regulares adotassem práticas inclusivas. Em 2020 chegou a ser decretada a matrícula de crianças e adolescentes com deficiência em classes e instituições especializadas, mas tal política acabou sendo considerada inconstitucional e foi suspensa pouco tempo depois pelo Supremo Tribunal Federal. Há quatro anos, tínhamos 80% das crianças brasileiras com deficiência matriculadas em escolas regulares. Não temos dados atuais, mas muito provavelmente esse número decaiu. Na pandemia, elas foram as primeiras a sair das escolas.
Qual o impacto da pandemia de Covid-19 na sua vida?
Eu nunca deixei de me ocupar com aquilo em que acredito. A história da prisão só reforçou minha preocupação com o coletivo, com o social, com o grupo. Na psicanálise, quando a gente faz um apontamento à resistência psíquica, a tendência de quem o recebe é resistir ainda mais. Hoje, eu me sinto um pouco longe da luta política, então procurei manter essa posição em todas as discussões das quais participo no mundo acadêmico. Minha posição dentro da universidade sempre foi combativa. Na pandemia, organizei a distribuição de cestas básicas com um grupo de 120 pessoas. Fazemos uma média de 500 cestas e distribuímos em 12 pontos da cidade todos os meses. Isso, para mim, é um pouco de resistência política. Porque, claro, as pessoas precisam das cestas, mas com essa iniciativa eu também me sinto fazendo parte da sociedade civil e me opondo à política econômica do governo atual. Temos a esperança de que o próximo governo cuidará melhor do emprego e da fome da nossa população. Com isso, queremos utilizar essa mesma rede para fazer a distribuição de livros e criar pequenas bibliotecas nos lugares em que hoje levamos comida.