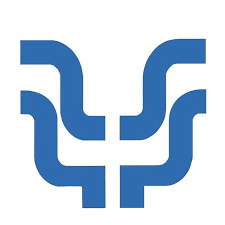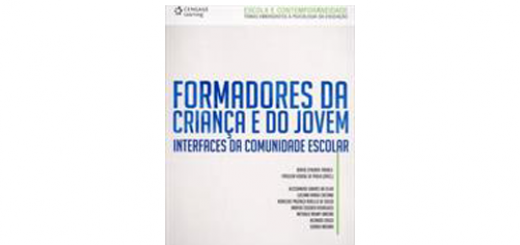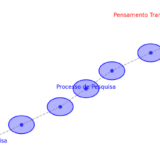Em 2020, a norma jurídica que ficou conhecida como Lei de Alienação Parental completou dez anos. O termo, cunhado pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner na década de 1980, ganhou o sistema de justiça brasileiro com a promessa de diminuir uso de menores em disputas emocionais entre familiares, por exemplo.
Para a mestre em Psicologia Social do Instituto de Psicologia (IP) da USP, em São Paulo, Camila Pires, a lei não tem conseguido cumprir a proposta que levou à sua criação, em 2010. Ela afirmou que há impactos negativos para mulheres mães e também para os menores, que em vez de serem protegidos se veem enfrentando mais riscos de sofrerem violências. Confira a entrevista realizada pelo projeto Ciclo22 da USP.
O que é alienação parental e como a psicologia lida com esse conceito desde a criação da lei, em 2010?
A alienação parental no Brasil não é crime, mas já houve algumas tentativas de criminalização da prática, no texto original da Lei nº 12.318/2010, em seu artigo 10, que foi vetado, e previa-se a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a detenção em caso de apresentação de falso testemunho. Outra tentativa que pode ser citada foi a proposta do PL nº 4488/2016 (arquivado) para a detenção de pessoas que cometessem atos de alienação parental.
O que a lei atual propõe são alguns instrumentos processuais aptos a inibir atos de alienação parental, como multa, advertência e modificação de guarda. O que implica dizer que a legislação aponta para um caráter muito mais punitivista, padronizando condutas e respostas, reprovando comportamentos, por meio da judicialização, frente ao não cumprimento de normas sociais.
Há uma crítica muito forte da psicologia com relação ao caráter punitivista ou a possibilidade de criminalização da prática, já que impactaria severamente as mulheres, detentoras majoritárias da guarda de crianças e adolescentes no Brasil. Além disso, com a judicialização, os conflitos tendem a ser analisados pelo viés individual, produzindo vitimização ou culpabilização, buscando justificativas na interioridade psíquica em detrimento de uma análise que contemple aspectos socio-históricos.
E o que quer dizer alienação parental? A suposta intenção da legislação criada foi proteger crianças e adolescentes de uma violação do direito à convivência familiar. A lei diz que, se um dos genitores proíbe a criança de ter convivência com outro genitor, por exemplo, é considerado ato de alienação parental. Segundo a lei, é a interferência na formação psicológica da criança e do adolescente induzida por um dos genitores, avós, ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
A psicologia é convocada a discutir esse assunto desde a criação da lei. Na única audiência pública que houve, realizada na Câmara dos Deputados ainda quando a lei estava sendo discutida, em 2008, o Conselho Federal de Psicologia participou do processo e se posicionou contrário a ela. Isso está registrado na ata da audiência. O texto da lei menciona o campo da psicologia em pelo menos três aspectos: integridade psicológica da criança ou adolescente; determinação de perícia psicológica e determinação de acompanhamento psicológico. Ou seja, há uma necessidade urgente de intensificação das discussões sobre o tema da alienação parental e do campo da psicologia, inclusive, para promovermos mais ações emancipatórias que questionam, desconstroem, que não individualizam questões sociais, em vez de colaborarmos com a manutenção ou reprodução de estereótipos e fomento de práticas não transformadoras.
Atualmente, há profissionais que são favoráveis à lei; que a consideram um grande avanço para a proteção de crianças e adolescentes e garantia do direito à convivência familiar. E há outros profissionais, nos quais eu me incluo, que a consideram um retrocesso. Na minha dissertação de mestrado, eu pesquisei as representações sociais que circulavam no senso comum e também no saber técnico profissional de psicólogos e psicólogas acerca da alienação parental, e foi possível identificar que alguns discursos propagados no senso comum, em especial nas mídias e redes sociais, também atravessam o saber especializado, apontando para a urgência da aliança entre técnica e crítica no contexto da psicologia, para que a prática possa promover ações emancipatórias e não violadoras.
Por que parte da psicologia considera que a lei viola os direitos de mulheres, crianças e adolescentes, mais do que protege, por exemplo?
A Lei de Alienação Parental, e esse é um ponto importante dela, traz algumas formas exemplificativas, alguns comportamentos que podem ser considerados atos de alienação parental. Por exemplo, ‘realizar campanha de desqualificação; dificultar o exercício da autoridade parental’.
O mais importante, talvez o maior potencial violador, é o item VI do artigo 2º da lei, que diz: ‘apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente’. Há uma crítica de grupos de mulheres mães, que a partir do momento em que elas denunciam maus tratos, violência doméstica ou violência sexual contra os filhos, e não conseguem comprovar essas violações, podem ser enquadradas como alienadoras parentais a partir dessa forma exemplificativa de alienação parental: a falsa denúncia.
No entanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente pressupõe que se pode suspeitar, não havendo necessidade de comprovação. Se eu, enquanto mãe, suspeito de uma violência de maus tratos ou de violência sexual do pai contra o filho, por exemplo, é uma suspeição e isso obriga o responsável pela criança ou adolescente a comunicar às autoridades. Se houve ou não o ato violador isso será apurado em âmbito criminal, após ampla defesa e contraditório. Não é obrigação das mães — que em maioria detêm a guarda — suspeitar e comprovar ações violadoras.
Isso impacta severamente em pelo menos dois pontos: risco de silenciamento de abusos intrafamiliares e aumento do risco dessa criança ou adolescente à violência, seja ela psicológica, física ou sexual; e a criminalização de mulheres mães sob a alcunha de alienadoras. O que parece bem contraditório, já que a lei afirma que seu objetivo é a proteção de crianças e adolescentes e a garantia da convivência familiar, mas acaba promovendo o silenciamento de violações no âmbito doméstico. Além disso, podemos dizer que ao criminalizar mulheres mães como alienadoras parentais, produzindo estereótipos, compromete-se a imparcialidade de órgãos jurisdicionais.
Existem outras críticas que rondam a Lei de Alienação Parental. No meu mestrado, eu levanto algumas delas. As críticas giram em torno da terminologia “alienação parental”, que carece de rigor científico — inclusive sobre isso há posicionamentos importantes do Conselho Federal de Psicologia (CFP); do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) e do Conselho Nacional de Saúde (CNS) —; da judicialização de questões sociais complexas, como os conflitos familiares; de questionamentos sobre a produção de novas categorias de sujeitos (o que aliena, o que é alienado e o que tem a síndrome – crianças e adolescentes); há polarizações sobre o possível caráter punitivista da lei; sobre o sexismo vinculado a ela; e sobre o esvaziamento do debate quanto às responsabilidades conjugais e parentais, quando se estabelece que na alienação parental há uma única forma de relação: vítima e algoz.
Na minha opinião, a lei acirra conflitos, simplifica relações familiares, que são complexas, ambivalentes e contraditórias, e promove a individualização de questões que são muito mais amplas e profundas, de caráter social, histórico e político. Além disso, a partir do momento que se traz questões relacionais para o ambiente judicial, onde há acusações mútuas como, por exemplo, ‘esse é um violador; ‘essa é uma alienadora’, acabamos por colocar os sujeitos em categorias muito fixas, dissipando a possibilidade de diálogo.
Também há uma crítica muito forte sobre a convocação da lei para diagnosticar atos de alienação. Sabemos que o diagnóstico, a elaboração de laudo ou realização de perícia irá subsidiar decisão judicial, o que demanda da psicologia uma análise crítica e urgente sobre o papel dela na produção de provas e sua atuação no sistema de justiça.
Falando sobre conflitos, vemos a recorrência de casos reportados na imprensa sobre mortes de crianças causadas por um dos genitores. É possível fazer algum tipo de correlação desses casos com alienação parental?
Não é possível dizermos que há correlação direta. É possível dizer que a Lei de Alienação Parental potencializa conflitos e transforma crianças e adolescentes em objetos de disputa. Há necessidade de produção de provas, de elaborações de laudos, perícias, e essas ações colocam um genitor contra o outro. Tanto a mãe quanto o pai, as duas mães ou dois pais, enfim, isso independe das configurações familiares.
Eu fiz entrevistas com psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que mencionaram atendimentos de pessoas que se surpreendiam durante os processos judiciais: “nossa, mas meu ex-marido está mentindo. Eu nunca fiz isso” ou “minha ex-mulher está inventando. É manipulação”, e era necessário lembrá-los de que a partir do momento que se está no sistema judiciário há uma série de questões envolvidas. Há advogados, há causas em disputa, há estratégias de defesa e acusação. Como disse uma das psicólogas entrevistadas, “isso é a judicialização da vida doméstica, que vai dando uma amplitude maior para o conflito”.
O sistema judiciário, da maneira como o conhecemos, muitas vezes acaba impactando ainda mais o sistema familiar. Foi como eu mencionei anteriormente: as relações familiares são complexas. Leva tempo para o sistema judiciário saber mediar corretamente os conflitos. Em uma pesquisa muito rápida no Tribunal de Justiça de São Paulo, vemos que os números de casos de alienação parental que têm sido abertos nos tribunais têm aumentado. O texto de justificação da lei dizia que o objetivo era reduzir os casos de conflitos familiares e que com a reprimenda do Estado esses casos seriam reduzidos, mas não é isso que se observa. Quanto mais se propaga esse termo, quanto mais ele circula no senso comum, mais as pessoas recorrem ao judiciário e mais casos são abertos ano após ano. Acredito que a lei prejudica um possível espaço de diálogo.
Quais são as críticas com relação ao termo “alienação parental” e de que maneira as diferentes configurações familiares são afetadas por ele?
A genealogia do termo é um pouco duvidosa. O conceito de alienação parental tem sua origem no contexto jurídico norte-americano, a partir de um outro conceito, “síndrome de alienação parental”, cunhado por Richard Gardner, que trabalhava como perito na década de 1980, momento em que ocorria um boom de divórcios nos Estados Unidos. No Brasil, mais ou menos na mesma época, tivemos a Lei do Divórcio, então aqui também aconteceu uma alta de separações.
Embora a lei brasileira não fale sobre “síndrome da alienação parental” — cita “atos de alienação parental” —, o texto de justificação da lei traz muitas referências à síndrome, então podemos inferir que a Lei de Alienação Parental brasileira foi construída a partir do conceito criado por Richard Gardner. Inclusive, fiz minha pesquisa relacionada à busca das representações sociais desse conceito de “alienação parental” a partir da sua nomeação nos campos psiquiátrico (a partir da importação do termo), jurídico e legislativo (mais específico no caso brasileiro).
Na chamada “síndrome de alienação parental”, a criança seria programada psicologicamente por um dos genitores. Richard Gardner traz termos como lavagem cerebral; programação cerebral; criança amnésica. Segundo ele, em algumas crianças a programação era tão severa que elas esqueceram qualquer experiência positiva e amorosa que tenham vivido com o genitor alienado.
Há críticas da psicologia em relação a esse termo porque ele psicopatologiza a criança, que seria acometida por um distúrbio. A teoria de Richard Gardner traz um rol de sintomas que a criança poderia apresentar se acometida.
Sobre sua pergunta em relação a outras configurações familiares, se pensarmos na genealogia do termo, podemos inferir que Richard Gardner se referia a casais heteronormativos. Para ele, as mulheres eram as grandes responsáveis pela prática de alienação parental, e eram impulsionadas por sentimentos de vingança. A lei brasileira optou pelo termo genitor, de acordo com o texto de justificação do PL para dar ênfase de que a prática de alienação parental seria realizada tanto por mães quanto por pais.
Mas esse termo está circulando no senso comum e nos espaços especializados e outras configurações familiares reportam a prática de alienação parental em suas relações privadas. Não só novas configurações familiares (para além da relação heteronormativa da genealogia do termo), como novos contextos em que estariam ocorrendo a alienação parental. Durante as entrevistas que eu realizei junto aos Núcleos de Proteção Jurídico, Social e Psicológico (NPJ), serviço referenciado ao Creas, escutei casos de casais homoafetivos que recorreram ao serviço, assim como conheci novos contextos como, por exemplo, mãe biológica sendo acusada de alienação parental por família substituta, quando a criança está temporariamente sob a tutela do Estado. O risco dessa disseminação do termo é justamente a banalização da suposta identificação dele em qualquer contexto.
Quando pesquisei o termo nas redes sociais e nos jornais e revistas, vi que desde a criação da lei, as pessoas identificavam a alienação parental como o “ato de falar mal”, como “minha mãe fala mal do meu pai; meu pai fala mal da minha mãe”. Então quanto mais deixamos o termo banalizado no senso comum, mais circulamos isso na mídia, mais incorporado fica para toda a sociedade. Isso pode trazer um risco enorme de grande judicialização dos conflitos intrafamiliares.
De que maneira podemos, então, pensar melhor os conflitos intrafamiliares que não seja por meio da judicialização?
Temos no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei da Guarda Compartilhada. No ECA já temos normas que garantem a proteção da criança e do adolescente contra possíveis violações, tanto no âmbito da violência psicológica quanto sexual. E essa normativa deve guiar todas as ações e decisões relativas à infância e adolescência. Já a Lei da Guarda Compartilhada, na minha opinião, contempla questões referentes à disputa de guarda e garante a proteção à convivência familiar, além de trazer possibilidade maior de diálogo. A lei não promove o acirramento de conflitos como no caso da Lei de Alienação Parental. Acho que temos normas suficientes que, se bem aplicadas, garantem a proteção das crianças e adolescentes. Ou seja, revogando-a já estaríamos reduzindo a judicialização desses conflitos que são relacionais. Para além disso, tanto o TJSP quanto a Defensoria Pública, por exemplo, já buscam promover práticas de mediação pré-processuais e autocomposição de conflitos, justamente para reduzir a judicialização das relações familiares e ampliar os espaços de escuta dessas famílias.
Por: Crisley Santana, para o Jornal da USP, 24/02/2023