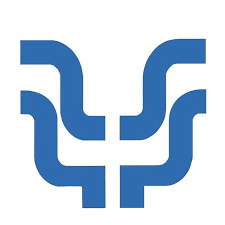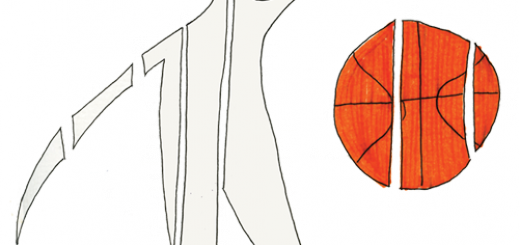Doutorado do IPUSP retrata sofrimento e resistência das travestis diante da violência de que são alvo diariamente
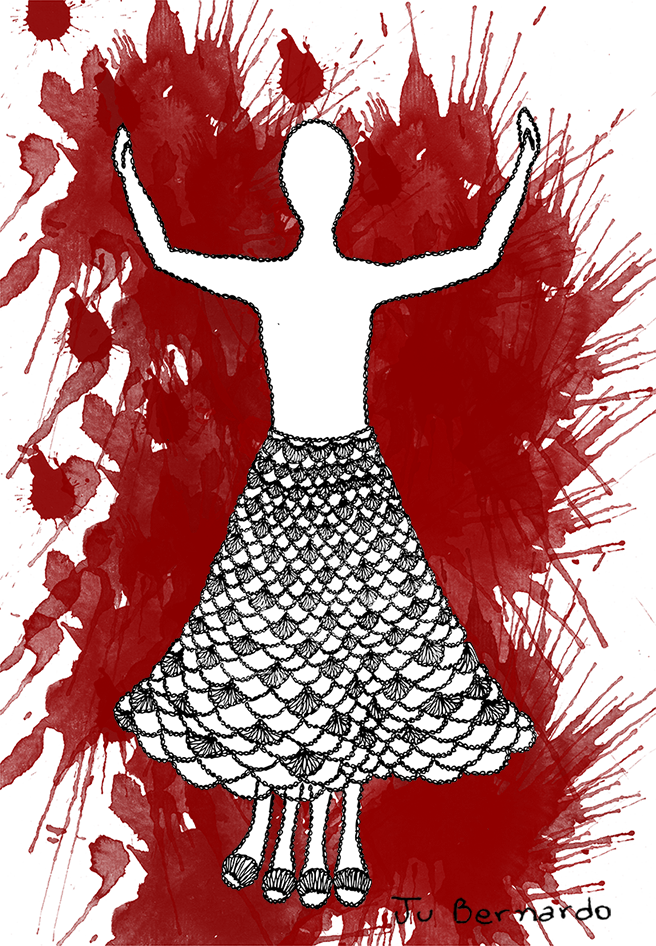 Imagine um adolescente de classe média alta, mais gentil e educado do que o esperado, para quem você dá aula particular e costuma ter conversas variadas e agradáveis.Certo dia, esse jovem, contando de uma “balada” de final de semana, relata, entre risos, que uma das grandes diversões de fim de noite dele e de seus amigos, é bater com o tapetinho enrolado do carro nas travestis que fazem ponto na rua do Jockey, em São Paulo. A agressão gratuita vinda de alguém que nunca antes havia apoiado ou demonstrado comportamento violento chocou a então professora Valéria Melki Busin, sendo essa uma de suas motivações para estudar no doutorado a respeito das agressões por que passam as travestis.
Imagine um adolescente de classe média alta, mais gentil e educado do que o esperado, para quem você dá aula particular e costuma ter conversas variadas e agradáveis.Certo dia, esse jovem, contando de uma “balada” de final de semana, relata, entre risos, que uma das grandes diversões de fim de noite dele e de seus amigos, é bater com o tapetinho enrolado do carro nas travestis que fazem ponto na rua do Jockey, em São Paulo. A agressão gratuita vinda de alguém que nunca antes havia apoiado ou demonstrado comportamento violento chocou a então professora Valéria Melki Busin, sendo essa uma de suas motivações para estudar no doutorado a respeito das agressões por que passam as travestis.
Busin fez uma pesquisa qualitativa na qual investigou de que forma a violência “marca a experiência cotidiana das travestis”. Ela constatou que a estigmatização e a violência, nas mais diversas modalidades, são desencadeadas a partir do momento em que ocorre a ruptura com as convenções sociais de gênero. Essa ruptura se dá não necessariamente quando a pessoa começa a se “montar” de ‘mulher’ (o que, em alguns casos, aconteceu tardiamente), mas desde o ponto em que o indivíduo se percebe e ou é percebido por alguém (familiar ou não) como “afeminado”, o que ocorre já na infância.Busin verificou que em todos os casos estudados “a expressão do feminino se deu inicialmente por meio de brincadeiras (usar toalha na cabeça para parecer cabelo comprido ou coque, ou na cintura, forjando saia), coocorrendo quase sempre a experiência de algum tipo de interdição”.
Por meio de entrevistas semiestruturadas, a pesquisadora recolheu e registrou as vivências de oito pessoas que se consideram ou se consideraram em algum momento da vida como sendo travestis. A análise dessas experiências e das entrevistas se deu, sobretudo, com base no construcionismo social, campo teórico-metodológico que busca demonstrar o caráter da condição social de nosso mundo. Sob essa perspectiva, mesmo realidades tidas como biológicas — a sexualidade e o gênero, por exemplo — são, na verdade, construções sociais, cujo desenvolvimento pode ser percebido no decorrer da história. Busin explica que essa abordagem começa a ser mais aplicada nos estudos da sexualidade em meados de 1990, mas que se inicia com trabalhos realizados a partir da década de 70, principalmente por John Gagnon e William Simon, que ‘inauguram’ a vertente norte-americana do contrucionismo social, tradicionalmente alemão. Segundo a pesquisadora, aqueles autores “trabalham com uma linguagem teatral — uso de conceitos como ‘cena’, ‘cenário’, ‘script’ — para falar das situações que acontecem socialmente”.
A “cena”, em especial, foi bastante explorada na pesquisa. Para além de uma entrevista mais convencional, quando no decorrer da conversa situações de violência vinham à tona de maneira importante, sempre que possível (contanto que houvesse a aceitação da colaboradora e a devida adequação do espaço), Busin procurava solicitar que a participante revivesse o ocorrido “como se ela estivesse de novo naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas, passando de novo por aquela situação”. Segundo a pesquisadora, o colocar-se novamente na cena contribui para que “a memória venha de forma menos censurada”. Ela continua: “é mais possível que a gente acesse os sentimentos, pensamentos, lembranças quando criamos condições pra que elas revivam”.
Tanto as cenas como as histórias de vida das travestis que colaboraram com a pesquisa revelam que se identificar com um gênero (no caso o “feminino”) diferente do tido como apropriado ao seu órgão sexual (o “masculino”) e sofrer violência por conta disso andam de mãos dadas na sociedade brasileira. Assim, ao mesmo tempo em que existe um encantamento pela realização de um forte desejo — expressar-se física e psicologicamente com atributos tidos como femininos, na medida em que se veem dessa forma — há também um grande temor pelos riscos que se corre por essa expressão. Riscos que muitas vezes se concretizam. Enquanto maquiagem, silicone, salto, hormônio e demais acessórios e adereços são utilizados para a travesti se montar e se mostrar, a violência contra elas também se “traveste”, mas, nesse caso, passando desapercebidamente. Evasão escolar, prostituição imposta, bullying, precarização do atendimento à saúde, abuso policial… esses são alguns dos disfarces da violência construída contra elas.
A roupa que não serve
O sentimento de inadequação está bastante presente na vida das travestis. Isso porque, de acordo com a tese de Busin, desde o início da socialização elas vivem uma contradição: a forma “correta” ou esperada de se comportarem ― os scripts culturais de gênero e sexo ―, que vão sendo assimilados em suas interações pessoais, não condizem com o sentimento de serem “femininas”. A pesquisadora explica que, desse modo, as travestis vivem a “experiência permanente e cotidiana de serem diferentes, mas um diferente não desejado socialmente: a diferença que exclui e inferioriza”. Esse estado permanente de “inferioridade moral”, no qual a pessoa fica posicionada à margem da sociedade, é considerado como violência simbólica. Valéria esclarece que esse tipo de violência nem chega a ser considerada como tal, porque é um tipo de coerção invisível na qual a pessoa que a sofre, ao reconhecer a autoridade de quem a exerce, acaba indireta e inconscientemente consentindo com a própria violência. Por sermos criados desde crianças em uma sociedade que marginaliza, estigmatiza e agride as travestis, é como se houvesse uma “autorização” para agir dessa forma, ocasionando uma aceitação geral dos agressores, dos agredidos e dos espectadores da situação.
A violência simbólica fica clara, por exemplo, nos relatos em que as entrevistadas mostram um esforço para se adequarem às normas: “Me botaram na cabeça isso, que era ruim. Era ruim e eu não queria, tipo: ‘Eu vou crescer, namorar uma menina’” [fala de uma das entrevistadas ao relatar a sua atração por meninos, ainda criança]. Mas, ao mesmo tempo em que há tentativas de cumprir as condutas preestabelecidas, como, por exemplo, não deixar o cabelo crescer, muitos relatos mostram também modos de escape desse roteiro e resistência às interdições: “Ele [o pai] chegou a me ver com o cobertor amarrado na cintura e com o cinto dele […]. Ele pendurou o cinto atrás da porta do quarto dele, que era um local que eu não alcançava […]. Aí eu lembro que eu fui conseguindo outros artifícios: a gente pega a toalha da mesa, o lençol… a gente inventa alguma outra coisa”.
Maquiada de prostituição
A violência simbólica fica evidente também no relato posterior, em que se observa uma espécie de predeterminação sócio-profissional da condição de prostituta, unicamente por ser travesti. “Eu conheci as travestis e eu achei que travesti tinha que ir pra esquina [fazer ponto de prostituição], porque só lá que tinha travesti […]. Eu via travesti, mas eu via travesti na boate ou via travesti descendo a [rua] Augusta, mais nada. Eu não via travesti em outros lugares”. Além de simbólico, o frequente exercício da prostituição pelas travestis muitas vezes se caracteriza como um outro tipo de violência: a econômica. Segundo Busin, seria esse o caso, por exemplo, “quando as pessoas são obrigadas a exercer a prostituição porque não conseguem entrar no mercado formal de trabalho”. Ela ainda informa que “Os números da ANTRA [Associação Nacional de Travestis e Transexuais] demonstram que cerca de 90% das travestis estão na prostituição e a maioria delas não gosta disso, não escolheu como profissão.
Uniformizada de evasão escolar
A escolha profissional fica ainda mais restrita em função da generalizada baixa escolaridade das travestis. O alto índice de evasão escolar se dá tanto pela estigmatização quanto por outros fatores socioeconômicos relacionados a essa população. Isso é conhecido como interseccionalidade, termo que compreende as diferentes formas de interações entre as minorias e as estruturas de poder.
Ao serem consideradas pelos colegas e demais pessoas da escola como “afeminadas”, o bullying pode se tornar frequente sob várias formas: desde agressões verbais (“viado”, “bicha” etc.), segregação, proibição do uso do banheiro feminino, até abuso sexual e ataques físicos. Muitas das entrevistadas relataram que eram constantemente ofendidas nas escola, o que as levou a desistir dos estudos. Como ilustração dessa violência, há um marcante episódio experienciado por uma das participantes da pesquisa. Ao retornar das férias para ingressar no segundo ano do Ensino Médio, por estar supostamente muito
afeminada “devido à ingestão de hormônios e ao uso de roupas assumidamente femininas”, ela, juntamente com mais duas amigas na mesma situação de modificação corporal, foi apedrejada pelos colegas nas imediações da escola. “E aí na escola a gente teve a chuva de pedras portuguesas na calçada. Deram uma chuva de pedras em nós três. [Na volta das férias escolares, eu já] estava megafeminina […]. Aí uma disse pra outra: ‘Não vamos mais. A gente vai morrer’”.
Etiquetada com o nome masculino
Apesar de todas as dificuldades, algumas travestis que abandonaram os estudos quando crianças ou adolescentes estão retornando à escola atualmente, sobretudo aquelas ligadas de algum modo a organizações que lutam pela conquista de seus direitos, cujos membros costumam apoiar a volta ao ensino formal. Entretanto, os obstáculos permanecem. Dentre eles, ser identificada pelo nome de registro (masculino), que para muitas é uma exposição humilhante. Uma das participantes relata que, mesmo após seus amigos do Movimento LGBTIQQ terem sugerido à escola que se dirigissem a ela por seu nome social (feminino), era recorrente que durante a chamada usassem o seu nome de registro (masculino). “Fui para a aula. Começou a chamada, aí chamou o nome de registro, não tinha nada de nome social. ‘E agora? Respondo? O que eu falo? Ganho falta?’. Aquilo… eu senti um calor de baixo para cima, subindo. Eu simplesmente abaixei a cabeça, o olho encheu de lágrima e eu ergui o braço e disse ‘Presente’”. Além da desistência do ensino formal, a pesquisadora cita outras consequências por não se conseguir mudar o nome nos documentos oficiais, como “deixar de receber cuidados médicos, ter dificuldades de conseguir emprego ou, ainda, não poder locar um imóvel para sua moradia”.
Contudo, dentre as colaboradoras da pesquisa, houve uma que se posicionou de maneira bastante divergente das outras, em relação a essa questão do nome. Busin afirma que, para a referida entrevistada, poder viver a ambiguidade a que é exposta por se ter um corpo ‘feminino’ e um nome oficial ‘masculino’ “é justamente onde reside o encanto e a ousadia de ser travesti; é somente assim que a fantasia se realiza”. A pesquisadora prossegue concordando com a entrevistada, de que a saída seria o acolhimento social da pluralidade: “A solução proposta [por ela] parece ser justa: ser aceita e ser tratada dignamente em sua diferença, e que a diferença seja simplesmente vivida como diversidade”.
Bombada pelo ativismo
Se, por um lado, atuar na militância contribui, em geral, para a conscientização e união das travestis e população LGBTIQQ, por outro, o Movimento não está imune aos preconceitos próprios à sociedade à qual pertence. O doutorado de Busin mostra exatamente isso, já que mesmo entre os grupos representados em favor da diversidade de gênero e de orientação sexual (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer etc.) as travestis são marginalizadas. Uma das colaboradoras da pesquisa, a exemplo, relata que se sente pressionada no Movimento a abandonar o termo ‘travesti’, que seria sujo, e adotar o termo ‘transexual’, mais higienizado. “Eu estou sofrendo violência [dentro da militância LGBTIQQ], por exemplo, porque eu sou travesti. Porque eu não assumo a transexualidade. Porque eu tenho que usar o termo pessoa trans”.
Tanto entre as entrevistadas, que já participaram de alguma organização dessa natureza, quanto em sua própria experiência como ativista, Busin informa que são frequentes as situações e relatos em que se percebe a discriminação dentro do próprio movimento. Como isso é possível? Segundo a pesquisadora, todos, inclusive os ativistas, fomos socializados em um mesmo contexto sociocultural, o que implica algum grau de adesão a certos valores. Ela explica que internalizamos os preconceitos e que alguns deles são descontruídos com menos resistência, mas que outros relutantemente persistem, “porque eles, de alguma forma, mantêm uma linha entre aquelas pessoas que são valorizadas e têm mais poder e aquelas que são desvalorizadas”. Por isso, a pesquisadora afirma que, “às vezes, se agarrar ao preconceito é se agarrar a algum tipo de poder e se diferenciar, vamos dizer assim, daquelas pessoas que na sociedade não valem nada”. No caso das travestis, a pesquisadora diz que não é incomum que elas sejam vistas dentro do movimento como escandalosas e mal-educadas, sendo colocadas em segundo plano. Ela ainda pontua: “Muito embora elas tenham sido usadas por muito tempo por vários grupos para obter verba que vinha principalmente do enfrentamento à aids”.
Busin, no entanto, ressalta também que as travestis não estão passivas diante da situação. “O que está acontecendo de uma forma muito recente, mas muito consistente, é que as próprias travestis estão se organizando”. Para exemplificar, a pesquisadora relembra o protesto organizado pela Frente Paulista de Travestis e Transexuais contra a discriminação por parte da organização da Parada do orgulho LGBT de São Paulo, em 2012.
Roupa “suja” se lava em casa
Discorrendo sobre as violências com as quais as travestis do grupo se deparam diariamente em suas relações pessoais, a pesquisadora aponta a violência familiar como uma das primeiras e mais simbólicas experiências deste tipo. O afeto, muitas vezes, dava lugar ao temor, pois a violência era justificada pelo afastamento indevido da sexualidade masculina, vista como “obrigatória” pela família. “O pai de Roberta, além de desferir-lhe um sonoro tapa na cara, também gritou ‘Na minha casa não tem isso! Na minha casa eu tenho filho homem!’”, conta Busin.
Até mesmo nos casos em que a proteção familiar é mais forte que a violência, como no caso de Cynthia, que disse sempre ter sido protegida por ter uma família grande com muitos irmãos, o preconceito ocorre velado. Cobrada todos os dias por estar se tornando “muito feminina”, ela decidiu sair de casa. Esta “aceitação com ressalvas”, muito comum em diversas relações familiares, ainda constitui uma forma de opressão, pois mesmo se sentindo mulher, Cynthia era impedida de se vestir como mulher, de ser livremente mulher.
O que mais se destaca neste ponto é a diferença entre a aceitação da sexualidade e a aceitação de gênero. Muitas famílias dos relatos aceitaram mais facilmente que o filho poderia ser homossexual, porém, no momento em que este começava a se travestir, o preconceito se estampava claramente através de humilhações, expulsões e exclusões. Sharon relata, por exemplo, que ao passar a se vestir de mulher, então com doze anos, foi obrigada a morar em uma casinha no fundo do quintal dos pais, para ela, uma humilhante “casinha de cachorro”.
Nua e crua
O relato das oito participantes da pesquisa mostra que todas se sentiam femininas e desde muito cedo realizavam transformações que diferiam do sexo que lhes havia sido designado. Infelizmente, quanto mais elas se expressavam mais apareciam as desaprovações sociais, os títulos pejorativos, a violência. Descobriam, então, que adiar a mudança era sinônimo de segurança e se sentiam culpadas por cada ato de violência que sofriam. “As opções delas eram libertar-se – expressar-se abertamente de forma feminina –, correndo risco de morte, ou morrer como travestis para se libertar das violências”, explica a pesquisadora.
A construção e reconstrução de suas identidades pessoais é complicada e dolorosa, porém recompensadora. A representatividade e a recusa da opressão conseguem, pouco a pouco, romper os laços da desigualdade social e da violência. Esse processo é uma relação de poder e, onde há poder, sempre haverá resistência. Desta maneira, Busin nos afirma que “a reação e a resistência à violência de gênero têm permitido às pessoas que não se conformam aos scripts de sexo e gênero, e aos cenários culturais de sua socialização, deixar para as próximas gerações o legado de novas produções discursivas que amplificam a liberdade, criam outras formas de existência, renovando e ampliando a diversidade”.
Por Tatiana Iwata e Fernanda Giacomassi
Clique nas imagens para folhear as revistas psico.usp